por Felipe Macedo (texto publicado em O Cinema de Amanhã (2008), livro lançado pelo Congresso Brasileiro de Cinema e pela Coalizão Brasileira pela Diversidade Cultural)
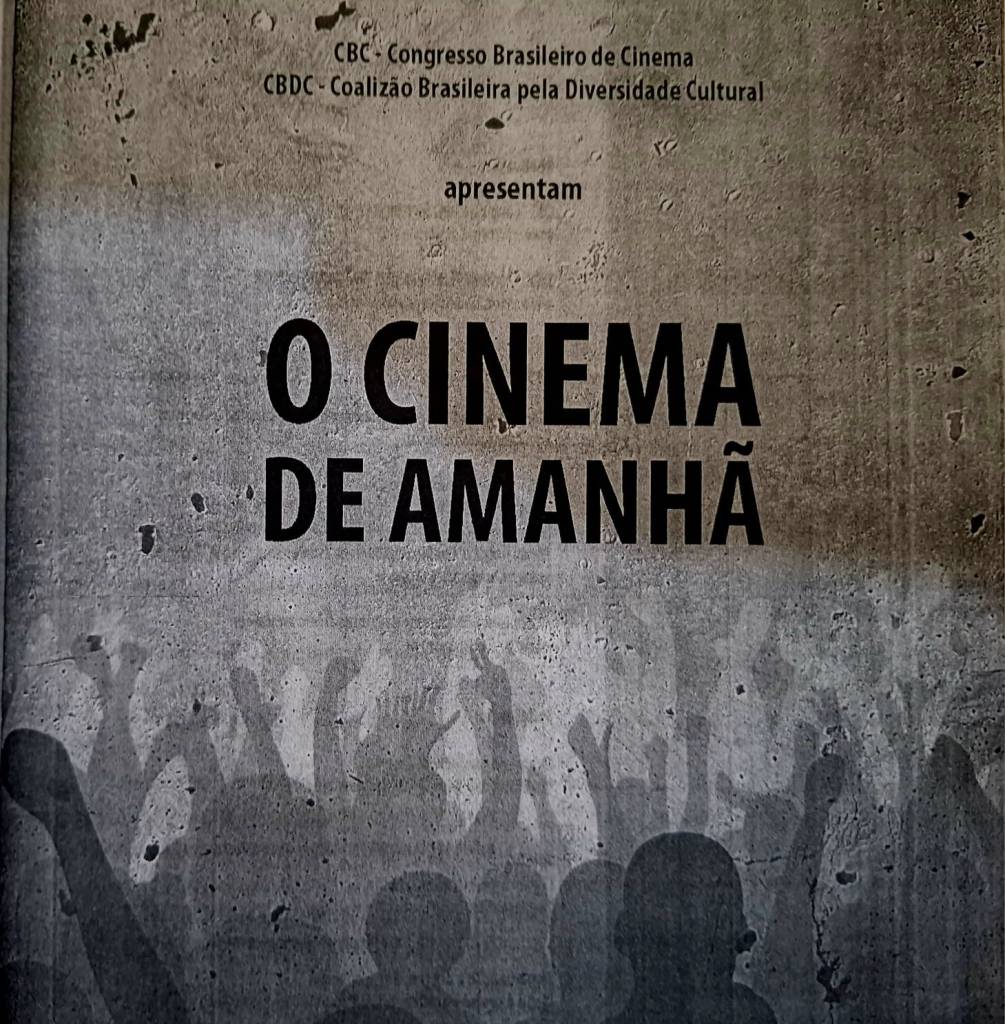
Um estrangeiro em nossas telas
O cinema nacional foi expulso das telas do País no início da segunda década do século passado, tornando-se definitivamente um turista acidental nas praias do imaginário popular brasileiro.
Durante décadas, na nossa mentalidade colonizada, estimulada por ampla propaganda e pela complacência quase absoluta das elites econômicas – e mesmo da intelectualidade – a ausência pouco menos que total do cinema brasileiro nas salas de exibição, e posteriormente nos lares, foi encarada como “natural”, decorrente de nossas fraquezas atávicas.
Nos anos 30, com a sonorização, dizia-se que nosso idioma não ficava bem no cinema. Nos tempos em que o musical e a comédia popular ganhavam espaço na concorrência com o similar americano, logo ganhavam o estigma da vulgaridade, identificada com a nossa (in)capacidade de criação, e eram prontamente repudiados pela intelligentsia. Ou, ao contrário, quando instigante, inovador, laureado em festivais do mundo todo, era elitista, incompreensível ou… comunista. Houve tempo em que o som do cinema brasileiro “não prestava” – os exibidores mantinham péssimas aparelhagens sonoras já que o público não tinha que entender os diálogos, mas apenas ler as legendas dos filmes falados em inglês. E ainda teve a época em que o nosso cinema era só “sacanagem e pornografia”, rótulo curioso em tempos de censura feroz e que se colava numa variadíssima gama de filmes, das comediazinhas eróticas inspiradas no modelo italiano da época e até nas adaptações cinematográficas de Nelson Rodrigues, Jorge Amado ou Mário de Andrade.
A compreensão do modelo
Dentro do cinema brasileiro, entre os cineastas e produtores, a compreensão da sua própria condição esteve limitada, ao longo de todo esse tempo, pela situação desesperadora em que sempre se encontrou. Tanto ou mais que outras expressões culturais que se realizam no espaço econômico do mercado, sem poder se estruturar industrialmente, o cinema brasileiro foi constrangido a procurar sua salvação no financiamento episódico e irregular da produção. Da “cavação” do começo do século até a renúncia fiscal de hoje, passando por eventuais mecenas e períodos diversos de fomentos variados ou tímidas reservas de mercado, mais heróico que oportunista, o cinema brasileiro concentrou toda a sua energia, na maior parte do século 20, em arranjar recursos para a produção. E identificou na questão do financiamento da produção a problemática do cinema em nosso País.
Nos últimos anos, contudo, cresceu a consciência de que o processo econômico do cinema só se realiza integralmente ao atingir o consumidor final, o respeitável público. Vários elementos contribuíram para a valorização desse “novo” enfoque, como os sucessos de exibição conseguidos pela Embrafilme, impulsionados muitas vezes pela participação direta dos realizadores, por volta dos anos 80. Mas foi principalmente o gritante encolhimento do mercado exibidor que tornou evidente a impossibilidade de se pagar um filme sem ter salas suficientes para exibi-lo. Ainda que não se deva desprezar a onda privatizadora que acompanhou a redemocratização do País na formação dessa nova consciência – com o fechamento da Embrafilme e o inferno collorido que o cinema experimentou – ela não parece ter sido forte o suficiente, até então, para alterar o modelo baseado exclusivamente no financiamento da produção. Tanto que, depois de uma certa perplexidade, reconstituiu-se basicamente o mesmo modelo de financiamento estatal, agora sob a forma de renúncia fiscal.
Não, só muito recentemente começaram a surgir modelos de produção privados e regulações de investimentos que realmente incorporam a noção fundamental da exibição. Grosso modo, vêm-se essas iniciativas mais claramente com as produções de grupos ligados à televisão, nas associações com os distribuidores e, no plano financeiro, com o chamado “artigo 3º “e com os funcines.
Ainda que se mantenha o financiamento da produção através de mecanismos de renúncia fiscal (afinal, ninguém é de ferro), pode-se dizer que uma parte do cinema no Brasil está centrando mais a sua compreensão na questão da exibição. Do ponto de vista econômico – e em termos de público – já é o novo modelo que responde por boa parte do desempenho do cinema brasileiro. Um modelo que inclusive pretende prescindir totalmente de regulamentação estatal, como ficou amplamente demonstrado na recente querela da Ancinav.
Mas será que o sucesso econômico e de público – e de “crítica”, se pensarmos na inédita adesão da imprensa nos tempos que correm – provam o acerto do modelo? Será que o cinema brasileiro chegou finalmente à maturidade e conseguiu descobrir a fórmula mágica que lhe permite criar uma indústria sólida, num jogo livre de mercado, e conquistar o público que, para muitos, não gostava de cinema brasileiro?
Ou será que, como sempre, nossa capacidade de foco se limita apenas ao primeiro plano da realidade e a milagrosa receita de solução não passa da reprodução ideológica e colonizada de interesses econômicos que seguem dominando nosso cinema? Mesmo com o generalizado desconforto que prodiga a “estética de televisão”, que parece estar empobrecendo nosso cinema; ainda que a imensa maioria da chamada classe cinematográfica tenha se manifestado pela necessidade de controle e regulamentação do audiovisual, será que há uma visão clara de onde está o erro essencial desse modelo? Existe alguma outra proposta para o cinema brasileiro, que não seja o retorno à mera repetição do apadrinhamento da produção?
Paz de cemitério
Há vários sofismas no raciocínio triunfante da fórmula “Motion Pictures Association, Globo e parceiros”. De fato, o que ela consagra é uma solução de compromisso: Hollywood “cede” uma parcela ínfima do nosso mercado em troca do conformismo ou silêncio da parte brasileira que terá o privilégio de ocupá-la. E oculta a questão realmente central do cinema no Brasil: a distribuição.
Desde a reforma da Constituição, da chegada dos exibidores estrangeiros e das salas multiplex, essa fórmula vem sendo vendida: reservar uma sala em dez para o cinema brasileiro, mais ou menos 10% do mercado. Mas, claro, o mercado é “livre”, tem anos que se pode chegar quase a 20% (desde que não se repitam)! A fórmula parece grosseira…mente simples, mas tem aspectos geniais.
Com a “concessão” desse espaço, o cinema brasileiro (na verdade, um ou dois títulos entre dezenas de lançamentos) chega, em anos extraordinários, a “bater recordes” de renda e público. A imprensa festeja. Com um mercado assim acordado e definido, portanto paradoxalmente quase sem risco, novos players entram no jogo: a televisão brasileira, agora produtora e a ardorosa defensora dos valores nativos. E ela mesma festeja, no rádio, jornal e televisão. Apaziguados os ânimos definitivamente, exorcizado o sentimento antiamericano, as distribuidoras de Hollywood “se abrem” para alguns filmes brasileiros (ainda que, como antigamente, só nas datas não reservadas para filmes americanos, mesmo que os brasileiros façam maior renda) que aparentemente não têm mais que lutar pra entrar nesse cercadinho de 10% da área do cinema. Aliás, elas já os produzem, amparadas no famoso “artigo 3º”. E até ao Oscar – o Kikito do cinema americano – a gente concorre, e com ajuda dos distribuidores estrangeiros, mostrando que “o cinema brasileiro renasceu, e se tornou digno do padrão internacional”. E é a maior festa. Alguns nomes do cinema brasileiro aderem, talvez cansados… E aí, erro de cálculo, isso não basta pra desmobilizar o cinema brasileiro. Em vez de festa é luta.
Esse modelo instaura a paz do cemitério. Ele consagra(ria) uma derrota definitiva do cinema brasileiro, sua rendição em troca da segurança de uma pequena elite, e a morte lenta, gradual e segura de toda voz, cineasta e filme discrepante em favor do modelo comportado do mercado. Concentrando finalmente o mercado em poucas indústrias estáveis, estabelece e reproduz outros aspectos do modelo americano, como a primazia do produtor na realização cinematográfica, e tende a criar e repetir modelos estéticos de sucesso financeiro, emasculando um dos cinemas mais criativos do mundo.
O busílis do business
Mais uma vez, a solução é falaciosa. A questão fulcral do cinema brasileiro não é nem a produção nem a exibição, embora, claro, passe por esses dois aspectos importantíssimos. O controle do cinema no nosso país é e sempre foi exercido pela distribuição, de 1900 até hoje, e até que se tome alguma providência. Esse modelo segue essencialmente o mesmo, intocado. Se para certas empresas pode ter surgido uma bela oportunidade de criar uma subsidiária e faturar algumas boas dezenas de milhões de dólares, para Hollywood os ponteiros do faturamento não têm oscilação visível, mantendo-se numa confortável margem percentual que eterniza seu completo domínio do mercado. E do modelo brasileiro de cinema.
Mas de que serve afinal, identificar na distribuição o problema principal do cinema brasileiro? Isso ajuda a sair desse círculo maldito de dependência? É instrumento eficaz para enfrentar o poder de Hollywood?
Quase 100 anos de dominação, acrescidos do poder econômico, militar e da importância que os EUA dão aos produtos que carregam o american way of life para os lares dos consumidores de todo o mundo são fortes argumentos desmobilizadores. A barragem contra a Ancinav é um pálido exemplo da disposição inicial (a briga nem tinha chegado no Congresso) que têm esses interesses em manter o status quo no cinema e no audiovisual. Evidentemente, não há condições de alterar drasticamente essa situação a curto prazo. É um embate de longa duração que, como também viu o governo – e boa parte dos governos do mundo – atualmente se inscreve num plano bem mais amplo do controle social da regulamentação das comunicações e da circulação de bens culturais.
Mas a constatação da evidência de que o controle do cinema no Brasil é exercido de fora e através da distribuição, permite ver claramente o modelo como um todo, ter um plano geral dos limites em que opera a racionalização desse modelo, que pouco tem variado e que trabalha com uma lógica determinada. Torna possível pensar em outras perspectivas.
A origem do modelo atual
O negócio do cinema é fundamentalmente o mesmo desde a consolidação dos seus paradigmas, nas duas primeiras décadas do século passado. Vem de então o design da hegemonia mundial quase absoluta de Hollywood, várias vezes retocada e atualizada, mas essencialmente alicerçada no mesmo modelo. No Brasil, que não foge à regra geral, houve, contudo, uma rearticulação importante nos anos 70, que apenas vem sendo “aperfeiçoada” de lá para cá.
Aquele período sim, foi marcado por uma reestruturação bastante radical na forma da exploração do cinema no Brasil, com uma espécie de gigantesco downsizing, de enxugamento ou racionalização de custos em reação à crise conjuntural importante por que passou o cinema nos EUA imediatamente antes, nos anos 60, por causa da televisão.
Até então, com uma população grosso modo duas vezes menor que a de hoje, o Brasil tinha quase três vezes mais cinemas. O ingresso era, há décadas, de 1 dólar em média. O cinema era um divertimento popular, com salas grandes, de 500, 600, 800 lugares, mesmo em cidades relativamente pequenas e, nas grandes, com cinemas espalhados pelos bairros. O público anual passava da casa dos 300 milhões de espectadores. Havia muitos exibidores de pequeno porte e as empresas distribuidoras, quase todas americanas, claro, também eram muitas. De fato, a competição entre elas criava um espaço de barganha que permitia a existência dos pequenos exibidores. A estrutura de distribuição era extensa, as empresas americanas mantinham filiais em diversos “territórios” de distribuição (só em SP eram 4). Mas tudo isso representava apenas 2% do faturamento da indústria americana de cinema fora de seu país, no “estrangeiro”.
Um feio dia, esse modelo mudou. As empresas americanas se concentraram em apenas três – em alguns momentos só duas – não por processos de aquisição ou fusão, mas sob a batuta da Motion Pictures Association. Lá, “em casa”, elas continuavam empresas separadas, aqui se cartelizaram. Os territórios foram abolidos e fechados os escritórios regionais. Estruturadas como monopólio, as empresas passaram a ditar os preços sem concorrência: num espaço de tempo reduzidíssimo faliram aos magotes os pequenos exibidores, desapareceram os cinemas nas cidades pequenas, depois nas médias, nos bairros… Cerca de 80% das salas de cinema fecharam em poucos anos.
O modelo e o controle da distribuição determinam o estado da exibição. O cinema deixou de ser divertimento popular, passou a ser entretenimento para as elites, concentradas em algumas grandes “praças”, com um ingresso muitas vezes mais caro do que o valor histórico até então. A administração da distribuição ficou mais barata e o aumento do ingresso compensou a diminuição de salas.
Para o Brasil havia sido uma mudança estrutural, o modelo do cinema mudou completamente, com profundas implicações para a cultura em geral e para o cinema brasileiro, que encontrava mais público e mais sentido no contato com um público mais amplo e popular. Segmentos inteiros, gêneros do cinema brasileiro desapareceram. Apenas para lembrar um exemplo dentre vários, os filmes que inclusive se pagavam em circuitos “sertanejos”, Teixeirinha, Mazzaroppi, sumiram. Para Hollywood, contudo, tudo isso praticamente não mexeu naqueles 2% de faturamento abroad que representávamos para eles.
Alguém logo dirá que muito disso poderia ter acontecido, digamos, no espaço de 20 anos. Que foi a televisão. Mas, ainda que transpuséssemos esse modelo de transição mecanicamente para um ritmo muito mais alongado, outros fenômenos teriam ocorrido, exibidores poderiam procurar se adaptar. Ou talvez não. Nos Estados Unidos, depois de uma relativamente curta, mas séria crise no final dos anos 60, o cinema se recuperou e se adaptou, e não parou de crescer – em faturamento como em número de salas – desde então. Lá ele é baseado em escala (40 mil salas), aqui em preço (já que somos um pequeno elemento da própria escala mundial com que opera Hollywood). Será que aqui teria havido investimentos para adaptar o cinema às inúmeras mudanças que ocorreram nestes últimos 30 anos? Ou será que, presos à nossa insignificância de mercado periférico e sem capacidade própria de investimento, a situação seria parecida com a de hoje? De qualquer forma, é preciso abandonar essa platitude ingênua que sustenta que a televisão, o vídeo e/ou outros gadjets eletrônicos “mataram o cinema”. Justamente nos países onde tem mais disso tudo, em todos os lares, é que geralmente há mais cinemas. A começar pelos EUA.
Modelo de negócio estrangeiro, cinema ocupante
Entender a formação do modelo do cinema no Brasil possibilita enxergar mais claramente sua conformação, sua historicidade. Permite entender melhor a que interesses atende esse tipo de negócio, ver mais claramente sua extensão e, portanto, vislumbrar seus limites.
É certamente um modelo que não atende às necessidades econômicas do cinema nacional, pois foi criado como fonte de renda complementar para um produto que se paga num mercado diametralmente diferente, baseado primeiramente em um público interno que, ainda por cima, é bastante xenófobo. Hoje, o custo médio de uma produção estadunidense é de mais de 60 milhões de dólares. É um modelo de negócio único, que sequer se pratica em qualquer outro país de renda elevada. É para atender a esse modelo que está estruturado o mercado brasileiro – e de praticamente o mundo todo: apenas 6 países em todo o planeta têm seus parques exibidores ocupados majoritariamente por filmes nacionais, Hollywood ocupa cerca de 85% do mercado mundial de cinema (no Brasil, três distribuidoras de lá respondem por 85% das bilheterias). Por isso temos esses preços dos ingressos, a compartimentação da exploração (janelas), a manutenção de tecnologias superadas (preparando a mudança do parque de 40 mil salas na matriz), sem falar na repetição infindável de modelos “estéticos”. A “indústria de cinema” de Hollywood, embora esteja presente em praticamente todos os países do mundo, não é constituída por empreendimentos multinacionais: ainda são empresas internacionais. Ou seja, ao contrário do que se conceitua como empresa multinacional, que admite uma variável descentralização de decisões, o controle do negócio do cinema ainda é rigidamente centralizado no famoso bairro de Los Angeles e coordenado por uma associação corporativa local.
Para atender a esse modelo, no Brasil o cinema atinge menos de 10% da população (cerca de 15 milhões de espectadores vão ao cinema ao menos uma vez por ano – fonte: relatório da Warner Bros, 2005). Isso sequer permite a escala para que a produção nacional se pague no seu mercado: como a produção recebe cerca de 30% da bilheteria dos filmes, um orçamento de 5 milhões de reais demanda 2 milhões de espectadores (com o ingresso médio nacional de 2007) para apenas empatar o investimento. Ora, de uma produção anual que beira 70 títulos de longa metragem, apenas dois ou três, se tanto, a cada ano, atingem essa marca mínima. E mesmo considerando as produções chamadas de baixo orçamento, ou cerca de 1 milhão de reais, é preciso um público de pelo menos 375 mil espectadores. Em 2005, por exemplo, apenas 5 filmes brasileiros alcançaram esse patamar – embora seja curioso notar que o campeão de público naquele ano tenha sido Os Dois Filhos de Francisco.
Boa parte da produção brasileira sequer chega aos cinemas (há mais de uma centena de longas metragens que nunca foram lançados comercialmente), e dos que chegam, a grande maioria fica abaixo – e com mais freqüência muito abaixo – de 100 mil espectadores. De fato, daqueles 10% da população que o cinema em geral atinge, o cinema brasileiro chega a apenas um décimo, ou seja, talvez menos que 1% dos brasileiros. 60% dos jovens entre 15 e 29 anos nunca foram ao cinema!
O modelo elitista, que busca apenas o público que pode pagar os ingressos desproporcionais à renda da quase totalidade de população, produz e estimula várias outras desigualdades. Apenas 8% dos municípios brasileiros contam com salas de cinema, e estas estão concentradas em poucos grandes centros: 48% nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns estados só têm salas de cinema na capital. No total, isso dá mais ou menos o mesmo número de salas de cinema que o México, por exemplo, que tem a metade da nossa população. É verdade que, no auge da crise, chegamos a menos de 1.000 salas; portanto teria havido um crescimento substancial nos últimos anos. Mas, comparando o modelo de exibição anterior, com salas de 500, 800 ou mais lugares, e os atuais conjuntos de salas multiplex, será que houve efetivamente um aumento na oferta de lugares? Não há estatísticas disso. Mas há sim, outros indicadores: em 2007, durante várias semanas, apenas dois títulos – e depois três – de superproduções hollywoodianas, ocuparam entre 75 e 80% de todas as salas de todo o País.
É, portanto, um modelo que tolhe a manifestação artística do nosso cinema, mata a possibilidade de expressão da suas enormes diversidades regionais e emascula sua relação com a grande maioria do público brasileiro, fonte mais essencial da sua própria inspiração – como de qualquer manifestação artística. Um modelo que não nos serve, criado para servir a outros interesses, que não nos beneficiam, pelo contrário. Há que se pensar e construir outro modelo.
Falência do arquétipo
No mercado tradicional, o cinema pouco mudou desde seu surgimento no final do século XIX. Ainda que tenha recebido incontáveis melhoramentos e aperfeiçoado incrivelmente sua capacidade de reproduzir ou recriar a realidade, os fundamentos tecnológicos do cinema mantiveram-se essencialmente os mesmos, em torno da película cinematográfica. E a estrutura da cadeia econômica do cinema – produção, distribuição, exibição – também se manteve basicamente dentro dos mesmos paradigmas. Nesse modelo centenário, outras instituições relativas ao cinema – o ensino, a preservação, a circulação sem fins lucrativos – assim como sua sustentação econômica, igualmente não mudaram no essencial. A mudança fundamental ocorre com a tecnologia digital e o estabelecimento da rede planetária de computadores. Só com essa mudança de paradigma todas as etapas do processo cinematográfico foram essencialmente transformadas: produção, distribuição/difusão e exibição/consumo.
A estrutura do mercado mundial está em acelerada mudança, e as empresas que o controlam lutam simultaneamente para manter esse controle e para criar novas formas e modelos que, assimilando as inovações, possam utilizá-las para aperfeiçoar esse monopólio audiovisual planetário.
De um lado há sinais evidentes da erosão do modelo, com a criação de novas formas de compartilhamento das obras cinematográficas, de um mercado mais ou menos informal de reprodução de filmes, genericamente chamado de pirataria pela ação de repressão desencadeada pela MPAA¹ em escala planetária. O que é chamado de pirataria, no entanto, engloba diversas modalidades de difusão e intercâmbio que não são comerciais e mesmo estritamente privadas. Essa questão constitui um dos mais importantes litígios internacionais da atualidade e se desenvolve em torno da questão dos direitos de propriedade intelectual, no campo das grandes instituições internacionais como a ONU e suas agências. Mas, concomitantemente, num espaço nebuloso entre legislações nacionais que ainda não se adequaram às novas questões e ações de força promovidas pelo grande poder econômico das empresas de entretenimento, uma enorme campanha mundial se desenvolve contra comerciantes desonestos, instituições culturais, organizações de ensino e, finalmente, contra os consumidores privados que acessam produtos culturais sem pagar pedágio aos controladores de “direitos”, originalmente concebidos para proteção (justamente contra a exploração das empresas) dos autores desses produtos culturais. Por outro lado, tal como aconteceu há um século com as inovações tecnológicas e da comunicação, as empresas buscam sua adaptação ao modelo comercial e a formatação de produtos para a exploração de mercados definidos e produção de lucro. Assim surgiram inicialmente as chamadas janelas, que delimitam mercados (salas de cinema, vídeo caseiro, televisão por assinatura e televisão aberta) e prazos de exploração comercial.
Mas o avanço da tecnologia e o crescimento de formas alternativas de difusão e de acesso a esses produtos erodem continuamente os padrões que se tenta estabelecer. A indústria fonográfica, que tem muito em comum com a do audiovisual – na questão de controle de mercados, distribuição e retenção da propriedade – é um exemplo bem mais evidente da falência de mecanismos “tradicionais” de comercialização.
Esta fase de transformações profundas no próprio modo de produção do cinema, esta etapa de transição de paradigmas é, igualmente, um tempo de experimentos e oportunidades.
¹Motion Pictures Association of America
Nollywwod
Um fenômeno que não pode deixar de ser referido é o que está ocorrendo na África, especialmente a partir da Nigéria. A produção e difusão audiovisual naquele país se estruturaram em bases diferentes do modelo hollywoodiano e se tornaram, atualmente, das mais importantes do mundo. Além de sustentar um modelo econômico muito próprio, o “cinema” nigeriano produziu efeitos culturais absolutamente inéditos naquele continente abandonado pela globalização e consumido pelo legado da colonização: despotismo, corrupção, penúria e doença.
Na África negra, principalmente, praticamente não existe produção de cinema. Nos herdeiros da colonização francesa, uma produção ocasional, apoiada pela antiga metrópole, revela esporadicamente talentos importantes, que se expressam em francês. No restante do continente, nem sequer isso. A Nigéria, ex-colônia inglesa, não só não produzia cinema como, desde os anos 80, viveu a desarticulação de seu parque exibidor. O modelo de rentabilidade, mais do que aqui, não tinha espaço numa economia mais precária que a nossa. A própria instabilidade do país e a insegurança em Lagos e outras cidades acelerou o fechamento dos cinemas. Outro fator fundamental para a falência do modelo de cinema foi, sem dúvida, a grande diferenciação cultural dos segmentos que compõem a população nigeriana (140 milhões de pessoas) e seu enorme distanciamento dos padrões estéticos de Hollywwod. Tudo isso contribuiu para o surgimento de uma produção de narrativas próprias em vídeo, que paulatinamente foram se organizando num modelo sustentável – e lucrativo – de produção, distribuição e consumo.
O modelo de “filme nigeriano” é o de uma produção barata (cerca de 25 mil dólares), filmada em prazos muito curtos e com precariedade de recursos narrativos. No entanto, desde os anos 80, essa produção foi consolidando sua base material, acumulando recursos econômicos, técnicos e estéticos. Integrando o imaginário local e as estruturas sociais e culturais das maiores etnias nigerianas, esse novo cinema criou uma vigorosa raiz na cultura popular e construiu um alicerce econômico para o seu desenvolvimento.
Hoje a Nigéria tem uma indústria de cinema, apelidada de Nollywood, baseada em tecnologia digital, que coloca o país entre os maiores produtores mundiais, com mais de mil títulos produzidos anualmente, ou cerca de 30 títulos lançados semanalmente. A distribuição é feita através de lojas e locadoras – cada filme com uma média de 15.000 cópias, mas alguns chegam à centena de milhares de DVDs – e de salas de exibição bem simples, onde o ingresso custa poucas nairas (moeda local). O faturamento aproximado dessa indústria é de 250 milhões de dólares anuais. E, mais que isso tudo, essa produção permitiu a expressão de diversas culturas, com um número muito significativo de filmes falados em iorubá, principalmente, em igbo, hauçá e em pidgin (patoá nigeriano do inglês), fato inédito e de incomensurável importância na realidade africana.
Se lembrarmos o número de câmeras a que a juventude brasileira tem acesso, o vigor das formas de expressão artística – novas ou tradicionais – que vêm das periferias do mercado formal, e os campos que se abrem, ainda sem limites visíveis, no terreno da difusão virtual, certamente o modelo de Nollywood pode nos dar o que pensar…
Construindo outro(s) paradigma(s)
No Brasil, as formas não comerciais de produção, distribuição e exibição também apontam para uma possível superação dos limites impostos pelo modelo de cinema a que ainda estamos sujeitos. Festivais de cinema, projetos de exibição itinerante, ambientes na Internet são algumas das formas de organização dessas iniciativas.
Mas, diferentemente das anteriores, o objetivo dos cineclubes se define pelo seu enraizamento local, com uma organização ou comunidade, e pela sistematicidade e permanência de sua ação. Esses objetivos, porém, são muito relativizados pela fragilidade dos cineclubes, que freqüentemente têm vida curta. Tradicionalmente pouco reconhecidos nas esferas públicas e menos ainda nos ambientes comerciais, freqüentemente combatidos pela indústria de distribuição e exibição, os cineclubes brasileiros praticamente desapareceram na virada do século. Apenas recentemente o governo federal começou a esboçar uma política de incentivos à reorganização dessas entidades, mas os resultados desse estímulo são muito prometedores: já são cerca de 300 os cineclubes em atividade no Brasil, também presentes em todos as cantos do País e nos mais diversos meios sociais. Os cineclubes trabalham fundamentalmente com filmes brasileiros, e marcadamente com o curta-metragem. O público dessas entidades gira em torno de algumas centenas de milhares de pessoas por ano, mas o que é mais importante é que elas se encontram num processo de acentuado crescimento e organização. Como 92% dos municípios brasileiros não têm salas de cinema, nem tampouco os bairros onde se concentra a imensa maioria da população – que não vai ao cinema – a perspectiva de aumento do número de cineclubes é bem clara: eles são as organizações de caráter permanente possivelmente mais adequadas para responder à carência de informação, cultura, entretenimento, e de cinema brasileiro, que grassa na quase totalidade das comunidades brasileiras.
Dentro do movimento de cineclubes surgiu também uma proposta diferenciada de criação de um sistema, o PopCine, de salas de cinema populares, de baixo custo de montagem e operação, com uma perspectiva de auto-sustentabilidade (suscetíveis de se pagarem em cidades menores e outras comunidades urbanas) e de remuneração de seus colaboradores, assim como dos filmes exibidos. Esse projeto, no entanto, ainda não conseguiu nenhum apoio efetivo.
A internet, além de já ser uma ferramenta – ou disponibilizar um conjunto de ferramentas – para a organização de várias atividades internas dos cineclubes, também representa um instrumento decisivo na evolução do processo de distribuição, agora difusão, dos conteúdos audiovisuais e, portanto, da democratização do acesso e da formação do público. A rede mundial de computadores, e as tecnologias a ela ligadas, não são apenas uma nova alternativa para o cineclubismo, mas uma nova forma de cineclubismo, a ser incorporada e desenvolvida com a maior prioridade.
Sobre o autor
Felipe Macedo é militante cineclubista há várias décadas. Foi um dos organizadores de um movimento nacional de cineclubes na resistência à ditadura militar. Fundou e presidiu a Federação Paulista de Cineclubes, o Conselho Nacional de Cineclubes, e foi dirigente da Federação Internacional de Cineclubes entre 1978 e 1984, os 4 últimos anos como Secretário Latino-americano daquela entidade. Também organizou e dirigiu, em 1976, a Dinafilme, distribuidora de filmes para o circuito alternativo. Ajudou a criar, programou e dirigiu alguns cineclubes importantes, de funcionamento diário, como o Bixiga, o Oscarito e o Elétrico Cineclube. Em 2006 organizou um circuito de salas populares, o PopCine que não teve continuidade pela súbita retirada do apoio inicial do governo do estado. Foi diretor de Atividades Culturais do Memorial da América Latina em duas ocasiões, tendo criado o Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo em 2006 e o Cineclube Latino-Americano (2012-2015). Ajudou a organizar dois Seminários de Cineclubismos Latino-americanos. Tem mestrado em Estudos Cinematográficos pela Universidade de Montreal onde também seguiu estudos de doutorado. Autor de Movimento Cineclubista Brasileiro (1982), organizador do livro Cineclube, Cinema e Educação (com Giovanni Alves, 2010), tem vários artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e em outros países. Mora em Montreal, Canadá.

Deixe um comentário